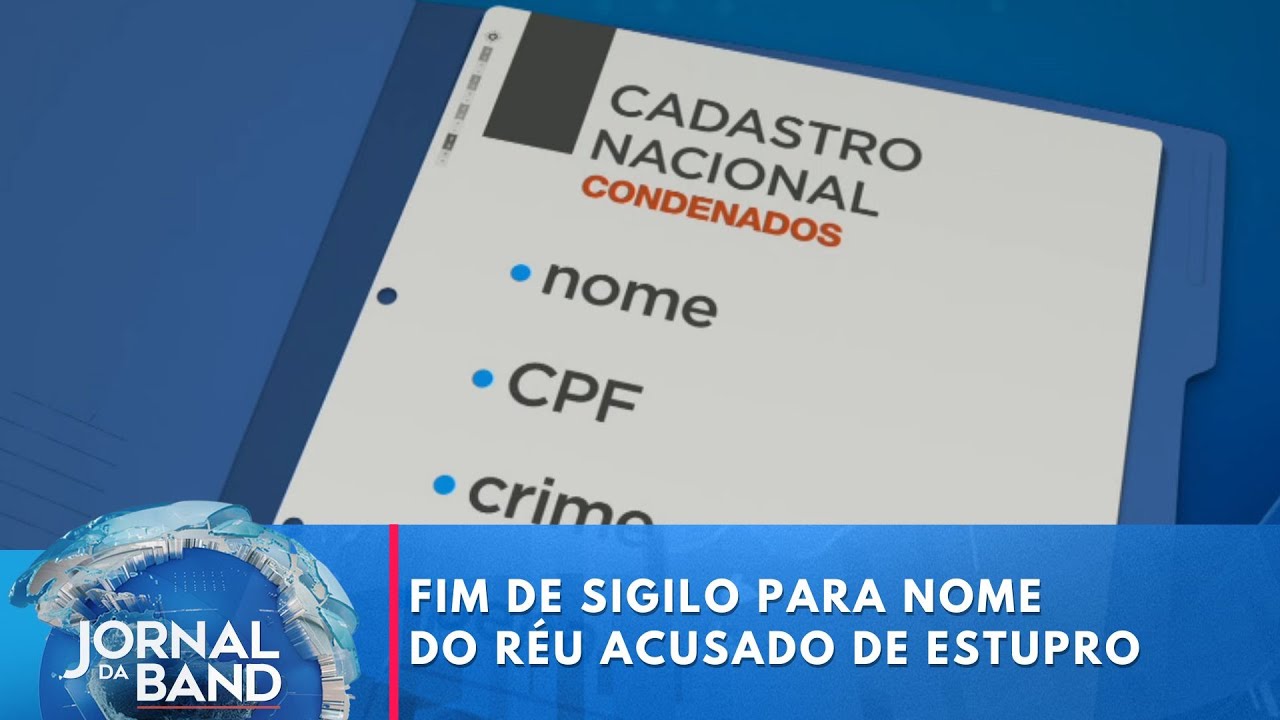Saiu no Site VEJA SAÚDE.
Veja a Publicação original.
Há oito anos, a poeta Marina Vergueiro, então com 29 anos, deu entrada no hospital com uma grave pneumonia, que a deixou na UTI entre a vida e a morte. Após dez dias de piora constante, os médicos pediram um exame e descobriram que ela estava com aids, a síndrome de imunodeficiência provocada pelo vírus HIV.
“Surpreende o fato de um hospital de classe média alta não ter suspeitado antes, porque esse tipo de pneumonia é bem sugestivo da presença de aids”, relembra Marina. Ela acha que isso ocorreu por ela não fazer parte dos padrões do “grupo de risco” para o HIV (um termo, aliás, que já caiu por terra; hoje se fala em comportamentos de risco).
Depois que o vírus foi detectado, Marina passou a receber o tratamento adequado, com os medicamentos antirretrovirais, e logo melhorou. Hoje, sua carga viral está indetectável e intransmissível. Ou seja, a quantidade de HIV em seu organismo é tão baixa (e está tão escondida) que ele não pode ser flagrado em exames ou passado para outra pessoa.
Atualmente, a paulista usa sua própria experiência para apoiar outras mulheres. “Sei que sou privilegiada, porque sempre tive apoio da minha família, mas muitas ainda não conseguem sequer contar para alguém que têm o vírus. E, assim, ficam sem acesso ao tratamento”, diz.
Mulheres jovens estão mais em risco do que antes
Historicamente, o vírus é mais prevalente no público masculino, uma das coisas que ajuda a fazer com que elas passem à margem das campanhas preventivas. No Brasil, estima-se que 330 mil mulheres e 590 mil homens vivam com o HIV. De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado no dia 1º de dezembro, cerca de 57% das mulheres que vivem com esse agente infeccioso possuem entre 20 e 39 anos.
“O que torna as mulheres mais vulneráveis é um conjunto de interseccionalidades, como a cor da pele, condição econômica, nível de escolaridade, ausência de redes de apoio ou suporte familiar”, aponta Claudia Velasquez, diretora e representante do Unaids no Brasil. Há ainda o recorte de raça – 36,6% são brancas e 54% são pretas ou pardas.
As mulheres trans são consideradas mais expostas à infecção pois reúnem uma série de sobreposições desses fatores. “Entre eles estão a não-aceitação da família, que pode motivar a expulsão de casa, além do estigma e da discriminação” continua Claudia.
Outros grupos, contudo, tem chamado a atenção dos especialistas. “Os dados epidemiológicos da região sul do Brasil ressaltam a importância de ações específicas para mulheres cisgênero, gestantes e mães vivendo com HIV com crianças de até 5 anos”, aponta Claudia.
No caso das mulheres cisgênero (isto é, cuja identidade de gênero corresponde ao sexo atribuído no nascimento), uma das principais barreiras de enfrentamento ao vírus costuma ser a testagem, como ocorreu com Marina. “Ela pode ouvir negativas quando tenta fazer o exame, porque escuta que não é o grupo de risco”, aponta o infectologista Rodrigo Zilli, diretor médico da GSK para HIV.
Quem vê cara não vê HIV
Basta transar sem camisinha para correr risco de contrair essa ou qualquer outra infecção sexualmente transmissível. Entretanto, o assunto é cercado de estigmas que atrapalham a busca por tratamento e o diagnóstico.
“O HIV é sempre associado à promiscuidade e às drogas, mas muitas mulheres acabam adquirindo em relações com parceiros fixos, por confiarem neles ou por não conseguirem negociar o uso de camisinha”, relata Marina, que faz um trabalho reconhecido de conscientização nas redes sociais.
O ideal é tratar a existência do vírus sem tabus desde o início. “É importante que meninas e mulheres recebam informações sobre prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e HIV com a mesma naturalidade que são orientadas sobre prevenção da gravidez indesejada”, destaca Velasquez.
Além da questão do sexo protegido e da autonomia sobre o próprio corpo, a testagem também deveria ser naturalizada. “A recomendação é que os médicos solicitem o exame sempre que oportuno e não julguem ou dificultem o acesso de quem o pedir. Todos têm direito ao teste regular ou sempre que houver uma exposição de risco”, pontua Zilli.
Acesso é o grande problema
Mesmo que existam políticas públicas, elas não chegam a toda a população. “Escutamos todos os tipos de relato de mulheres, principalmente das que não moram nas capitais. Há médicos que se recusam a fazer parto de gestantes com HIV, outros que não realizam exames físicos nelas”, conta Marina.
Ou seja, apesar de termos acesso aos tratamentos mais modernos e bons protocolos, esbarramos no básico, que é a capacitação dos profissionais. “Sem dúvida falta informação para os médicos fora dos grandes centros, e esse é um dos nosso principais desafios”, destaca Zilli.
A discriminação no atendimento é uma preocupação principalmente em relação às meninas mais jovens e que moram longe das cidades grandes. “Se houver um serviço de saúde no bairro onde uma pessoa conhecida trabalha, essa pessoa pode ser uma barreira para que a menina sequer se dirija ao serviço de saúde”, pontua Claudia.
A diretora da Unaids alerta que, com a pandemia do coronavírus, as dificuldades podem se agravar, pois as desigualdades sociais estão mais expostas do que nunca. É importante falar de HIV nesse contexto todo uma vez que, mesmo com tratamentos que permitem que a pessoa viva bem e não transmita o vírus, 11 mil brasileiros ainda morrem com aids por ano. As mulheres entre eles.