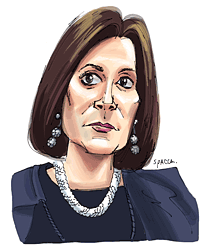Saiu no site CONJUR:
Veja publicação original: “Justiça Militar precisa de mais mulheres para diversificar aplicação do Direito”
.
Por Ana Pompeu
.
O Superior Tribunal Militar foi fundado apenas meses depois que a família real portuguesa chegou ao Brasil, em 1808. Embora não tenha tido sempre o mesmo nome, sempre foi a corte responsável por julgar crimes que a lei considerasse militares. A ministra Maria Elizabeth Teixeira Rocha, nomeada em 2009, foi a primeira mulher da história do Brasil a ocupar uma cadeira no tribunal. Está lá até hoje, e continua ostentando o título de única ministra do STM da história.
.
Não é pouca coisa. Constitucionalista, a ministra também é conhecida por seus posicionamentos garantistas, que a levam a entender que nem todas as condutas que agridem os princípios da hierarquia e da disciplina são crime. Num tribunal cuja maioria das cadeiras é ocupadas por integrantes das carreiras militares que se orgulham do rigo com que aplicam as leis, ser garantista significa ser voto vencido.
.
Posicionamento derrotado famoso dela é a favor da possibilidade de suspensão condicional da pena a casos de deserção se ficar demonstrado que o réu faz jus ao benefício. Mas o artigo 88 do Código de Processo Penal Militar impede, e é aplicado literalmente pelo STM.
.
Em entrevista à ConJur, a ministra, que presidiu o tribunal entre 2013 e 2015, explica que o posicionamento de seus colegas é prova de que as críticas a uma suposta leniência da Justiça Militar em relação a oficiais é “um mito”.
.
Por isso ela defende a Lei 13.491/2017, que transfere para a Justiça Militar a competência para julgar crimes dolosos contra a vida de civis cometidos por militares. De acordo com a ministra, a Justiça Militar terá de se adaptar, já que a Constituição prevê expressamente que réus por homicídio devem ser julgados pelo júri.
.
Mas essa mesma lei, lembra Maria Elizabeth, permite aos tribunais militares aplicarem mecanismos externos ao CPM, como algumas medidas da Lei Maria da Penha. Uma esperança para as mulheres militares vítimas de violência doméstica, já que o STM entende que não existe esse tipo penal no CPM, e os agressores acabam respondendo por lesão corporal, infração cujas penas são bem mais brandas e não preveem medidas protetivas às vítimas:
.
.
Leia a entrevista:
.
.
ConJur — Como é o seu dia a dia como única mulher da corte?
.
Maria Elizabeth Rocha — Fui muito bem recebida aqui. Não vou dizer que não existem discriminações, sobretudo, por incrível que pareça, de colegas civis. Os militares sempre tiveram uma postura muito cordial, muito respeitosa e eu nunca tive nenhum tipo de atrito. Mas com os civis a relação pode ser muitas vezes delicada.
.
.
ConJur — Em que sentido?
.
Maria Elizabeth Rocha — Às vezes tem brincadeiras infelizes, que “o melhor movimento feminista é o dos quadris”, essas coisas assim. De vez em quando você escuta isso, mas não tem o condão de te ofender. Não é uma ação contra a presença feminina. Os homens estão acostumados a brincar dessa maneira. O problema é quando vai além, aí é que a questão se complica. E aí é o que eu sempre digo: esses embates me tornam mais determinada a prosseguir e a não me acovardar. Lidar com discriminação de gênero é um embate que todas as mulheres têm, em qualquer instituição. E nós temos que enfrentar isso de cabeça erguida.
.
.
ConJur — Existem momentos de preconceito menos velado?
.
Maria Elizabeth Rocha — Fiz indicações para a medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar de alta distinção. Foram todas rebaixadas para distinção, porque eram de advogados. E o presidente assenta hoje na cadeira destinada aos advogados. Nós fazemos parte do quinto constitucional. Eu, ele e o ministro Arthur. Só posso atribuir a uma questão.
.
.
ConJur — Ter outra mulher no tribunal mudaria esse cenário?
.
Maria Elizabeth Rocha — É muito importante que tenha mais mulheres na Justiça Militar. Na primeira instância, que elas entram por concurso público, de provas e títulos, em que o acesso é meritório, existem muitas mulheres. Agora no STM, uma corte superior com ingresso nos mesmos moldes do Supremo Tribunal Federal, com escolha política, em 209 anos não tiveram essa sensibilidade. Me indicaram quando o tribunal completou 200 anos e eu já estou aqui há 11 anos e nenhuma outra veio ocupar uma cadeira. É claro que dez das cadeiras são reservadas aos ministros militares. Os generais têm que ser do último posto e patente do oficialato. São todos quatro estrelas e as mulheres só vão conseguir ascender ao generalato de quatro estrelas daqui a 30 anos, porque só agora as academias abriram as portas para as mulheres ingressarem.
.
As mulheres podiam ingressar na Marinha, por exemplo, mas não poderiam ingressar na armada, e os almirantes de quatro estrelas só saem da armada. Na Aeronáutica, as mulheres sempre entraram para a aviação, mas ainda vai levar um tempo para elas serem promovida. A Marinha só admitiu ingresso na academia no final do ano passado. E no Exército as mulheres só entraram para a Academia Militar das Agulhas Negras também no ano passado.
.
Mas há cinco vagas destinadas aos civis, que é onde elas têm mais chances. Mas é preciso que o presidente da República tenha sensibilidade para perceber que há poucas mulheres não só no STM, mas em todos os tribunais superiores. Nós somos 15 ao todo, 15 num universo de 102 ministros. São seis no TST, seis no STJ, duas no Supremo e eu no STM.
.
.
ConJur — Por que o gargalo está na escolha política?
.
Maria Elizabeth Rocha — Quando a escolha é política, o acesso é limitado. Os homens têm muito mais facilidade em transitar nesses espaços e em fazer interlocuções políticas do que as mulheres. Para ser indicada, você tem que ter todos os requisitos que a Constituição estabelece, mas não basta ter um bom currículo. É preciso que haja uma articulação de bastidores para você ser indicado. E depois há uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ainda há uma aprovação do seu nome pelo plenário do Senado. É uma articulação com os Três Poderes da República. É um diálogo muito grande com todos os poderes. Os homens têm muito mais, vamos dizer, expertise para fazer essas articulações. Foram criados para isso e têm tempo para isso. Nós temos filhos, família, casa, porque a jornada da mulher é tripla. Ela tem que dar conta de muita coisa.
.
.
ConJur — O que mudaria com mais mulheres nos tribunais superiores?
.
Maria Elizabeth Rocha — A questão da alteridade, e a heterogeneidade. É preciso que as instituições sejam arejadas, tenham uma visão multifacetada do Direito. Os tribunais, afinal de contas, julgam a vida das pessoas e são, em última análise, também a sustentação e o pilar do Estado Democrático. O Judiciário é o último refúgio do cidadão, então é preciso que haja ali uma visão multidisciplinar da concepção do Direito. Por isso considero o quinto constitucional tão relevante. Pode até ser injusto sob a perspectiva freudiana individual do magistrado, que faz o concurso, que vai passando de entrância em entrância. Mas para a sociedade e para a instituição é muito importante porque ele é arejador. No Judiciário, isso é significativo, porque nós é que dizemos o direito, e a visão feminina é diferente. Não é que seja melhor ou pior do que a masculina.
.
.
ConJur — Como são os casos que chegam aqui no STM de mulheres militares na posição de rés?
.
Maria Elizabeth Rocha — Só julguei, até hoje, um caso, de uma oficial que foi ré. As mulheres tendem a delinquir menos do que os homens. Não sei se é porque também elas têm um número contingencialmente menor do que os homens nas Forças Armadas. Mas o que eu mais julguei foram desrespeitos de militares homens a superiores mulheres. E aí o tribunal defendeu a posição da oficial que tinha sido desrespeitada simplesmente pelo fato de ser mulher, porque um homem não queria se subordinar ao comando feminino. O tribunal foi propedêutico, porque mandou uma mensagem muito clara de que todos têm de ser respeitados, não somente pelo fato de estar no comando, pelo fato de ser oficiais superiores, mas têm que ser respeitados dentro das suas características personalistas, dentro da sua identidade, dentro da sua individualidade.
.
.
ConJur — Como foi o caso em que a oficial era ré?
.
Maria Elizabeth Rocha — Era uma controladora de voo que não podia exercer sua profissão porque o comandante a colocava para fazer faxina, para fazer atividades domésticas voltadas à limpeza do quartel, inclusive churrascos de finais de semana. Ela, num determinado momento, acabou perdendo a paciência e o desacatou. Quer dizer, reagiu ao comando que tinha sido determinado e foi denunciada pelo Ministério Público por insubordinação. E foi absolvida. Quando se viu a situação em que ela tinha sido colocada, a humilhação, foi absolvida por unanimidade.
.
.
ConJur — A maior parte dos casos envolvendo mulheres, então, é mais nesse sentido do desrespeito?
.
Maria Elizabeth Rocha — Exato. Não vivemos a situação que a justiça militar americana vive, por exemplo. Cerca de 90% dos casos que estão submetidos a apreciação do tribunal militar norte americano, e eu fui até lá e vi isso, tanto na primeira instância quanto nos tribunais, são de violência sexual contra homens e mulheres, sobretudo mulheres, mas homens também incluídos. Aqui não existe isso. Teve uma tentativa pontual de estupro, mas contra uma civil.
.
.
ConJur — Como foi esse caso?
.
Maria Elizabeth Rocha — Ela é uma professora. Aconteceu num quartel em Mato Grosso, era esposa de um oficial, que saía de uma passagem de comando. O marido ficou para prestar a última continência e, quando ela foi para o estacionamento, que era escuro e ermo, um cabo embriagado tentou atacá-la, falando impropérios, propondo a prática da condução carnal e dizendo coisas bastante pesadas para ela. E não ficou só em palavras, ele efetivamente a agrediu. Ela conseguiu resistir justamente por causa da embriaguez. E aí houve uma sindicância, uma mera sindicância, que não apurou nada. Ela ficou inconformada e, com o marido, foi à delegacia especializada de violência contra mulher. Por conta dessa denúncia é que foi instaurado o inquérito. O réu foi absolvido em primeira instância. Disseram que não tinha 100% de certeza do que havia ocorrido. Mas quando o processo veio ao STM, eu tive a sorte de relatar. Trouxe um voto bastante contundente, mostrando como a questão da violência contra a mulher é invisível aos olhos dos operadores do Direito, da sociedade em geral e do próprio Poder Judiciário, que seria a instituição responsável para proteger a mulher, e que muitas vezes, é a primeira a segregar.
.
.
ConJur — Como é a aplicação da Lei Maria da Penha na Justiça Militar?
.
Maria Elizabeth Rocha — Fica como lesão corporal. Peguei umas quatro lesões corporais de militar contra militar. Em um dos casos era um companheiro, o marido, uma pessoa com quem ela mantinha uma relação de afeto, que a agrediu, mas não dentro do quartel, dentro do lar. E a minha posição — que sempre foi vencida aqui no tribunal, diga-se de passagem —sempre foi que quando esse tipo de violência doméstica acontece no recinto do lar, mesmo que seja no interior de um aquartelamento, de uma vila militar, não se trata de um crime militar, mas de um crime comum. E eu declinava o foro para a Justiça comum para que a mulher pudesse ter as proteções que a Lei Maria da Penha concedia. E eu era vencida, porque realmente se você for considerar a frieza da lei, o artigo 9º do Código Penal Militar diz: “Militar contra militar em situação de atividade”. Era militar contra militar em situação de atividade, só que se a gente aplicasse o CPM só poderíamos julgar, como julgávamos, como lesão corporal. E quando a agressão não deixava muitos vestígios físicos, deixava vestígios psicológicos, emocionais, o que a Lei Maria da Penha contempla, aqui era lesão corporal de natureza leve e tudo prescrevia, porque a pena era muito baixa. E não se considerava os outros reflexos que aquela violência tinha.
.
.
ConJur — E aí também não tem medida protetiva para a vítima?
.
Maria Elizabeth Rocha — Não tem nada. Agora foi promulgada a Lei 13.491 cuja constitucionalidade inclusive está sendo questionada no Supremo. Ela transferiu os crimes dolosos contra a vida para o nosso tribunal, se cometidos por militar contra civil. E aí o que que acontece? Houve uma alteração, ratione legis, da amplitude dos dispositivos que nós podemos aplicar aqui. E hoje podemos aplicar todas as leis penais e não apenas o CPM.
.
Agora, tem um princípio muito salutar para o Estado Democrático de Direito que é o de que não existe crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, você não pode criar uma conduta delituosa sem que tenha uma lei antes dizendo que aquilo é crime. Então a gente não podia pegar uma lei emprestada da legislação comum e trazer para dentro da Justiça Militar. É nulo, é inconstitucional. O problema da questão da violência de gênero com a Lei Maria da Penha é que ela é uma lei híbrida. Ela tem medidas cíveis, que são as medidas protetivas, e medidas penais. E somos um tribunal eminentemente criminal, de uma justiça penal. Só podemos julgar matéria de natureza penal. Se a gente defere as medidas protetivas, é uma invasão constitucional de competência da justiça civil. E o voto seria nulo.
.
.
ConJur — Como fica, então?
.
Maria Elizabeth Rocha — Não fica. A cidadã militar vira uma cidadã de segunda classe. A lei deveria albergar e proteger todas as mulheres contra a violência doméstica. Se um filho militar agride uma mãe militar, é Lei Maria da Penha, é violência doméstica. E se a mulher militar, por exemplo, agride outra mulher militar com quem ela tem relações de afeto, porque a lei já previa a homoafetividade feminina muito antes de o Supremo decidir sobre o tema, ela também poderia ser julgada pela jurisdição comum para ter essas proteções todas. No nosso caso, não fica: como vamos julgar matéria que é estranha à nossa competência? Entendo, sinceramente, tecnicamente falando, que por mais boa vontade que eu tenha, não posso invadir competência de uma outra esfera.
.
.
ConJur — Qual é o entendimento que desqualifica casos de violência doméstica para lesão corporal?
.
Maria Elizabeth Rocha — O artigo 9º do Código Penal Militar dizia que são crimes militares todos aqueles cometidos por militar contra militar. Mas não pode pegar a norma e simplesmente aplicar o texto frio da lei, sem fazer uma interpretação, sem entender quais são as consequências que aquela lei, que aquela subsunção, vai ter. Uma coisa é um militar que agride outro militar dentro do quartel. Ali eu acho que os bens que estão sendo tutelados são, sim, hierarquia e disciplina, as instituições militares. Um casal, por exemplo, que se desentende e o homem agride a mulher por conta daquele desentendimento, ou porque tem uma relação às vezes conflituosa dentro de casa, mas agride no quartel, estamos diante de um crime militar. Agora, quando é dentro de casa, ou é uma violência doméstica, não posso conceber que isso seja um crime de natureza militar, não tem sentido. O escopo da norma ~e proteger as instituições militares e a administração militar. Uma agressão doméstica atinge um bem muito maior: atinge a mulher, a sociedade, a família, todos bens tutelados pela Constituição Federal e que não cabem à Justiça Militar tutelar.
.
.
ConJur — Em 2008 ficou conhecido o caso do primeiro casal homossexual assumido no Exército brasileiro.
.
Maria Elizabeth Rocha — Que eu absolvi.
.
.
ConJur — Casos semelhantes chegaram aqui depois desse? A Justiça Militar mudou a abordagem nesse aspecto?
.
Maria Elizabeth Rocha — Não, não teve outro caso. E acho que essa política do don’t ask don’t tell [não procure saber, não conte a ninguém] também foi suplantada. Hoje, as Forças Armadas não podem não aceitar alguém em razão de orientação sexual. É claro que o que se exige de qualquer oficial hétero ou homossexual é um comportamento adequado com a farda que veste. Mas isso se exige de qualquer pessoa. Isso é preciso que haja realmente dentro da sociedade essa noção de comportamento dentro do seu trabalho. Agora a sua vida pessoal, a sua escolha, a sua orientação, como você quer viver, o Estado não pode se comportar como um voyeur e ficar observando as pessoas pelo buraco da fechadura para poder depois dizer quem é que merece integrar determinada instituição.
.
.
ConJur — A senhora disse que a Lei 13.491, que transfere para a Justiça Militar a competência para julgar militar que, em atividade, mata civil pode ajudar nas questões ligadas a violência doméstica e crimes sexuais. Mas a lei é apontada como uma forma de dar proteção a militares, especialmente agora, com a intervenção federal no Rio e as operações de garantia da lei e da ordem. A lei terá esse efeito?
.
Maria Elizabeth Rocha — Quem critica não conhece o rigor da Justiça Militar. Tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque sou uma das magistradas que mais absolve aqui. Entendo que nossos crimes poderiam ser tratados de forma diferenciada e não precisariam ser apenados como condutas criminosas. Poderiam ser infrações disciplinares ou até ter tratamento diferenciado pela política criminal. Mas não é o acontece. O rigor dos militares é muito grande. Eles raciocinam a questão da hierarquia e da disciplina como um dogma que não pode ser, sob forma alguma, contestado. Entendo, afinal os militares são armados pelo Estado e exercem o monopólio da força legítima, então não pode haver sublevação, ou é o Estado de direito e a sociedade que ficam ameaçados. Nesse sentido, a transferência da competência para a Justiça Militar não foi em busca da impunidade. Absolutamente.
.
.
ConJur — Foi em busca do quê?
.
Maria Elizabeth Rocha — Acho que a expertise e o conhecimento que a Justiça Militar tem para avaliar essas ações, que são muito específicas e que realmente exigem muito cuidado por parte do julgador. É necessário que seja uma justiça que conheça da matéria, que saiba como funcionam os exercícios militares, como o desempenho da missão deve ser feito, para que se possa valorar com exatidão se houve excessos, crime, ou não. Essa questão da impunidade na Justiça Militar é um mito. Se diz que é uma justiça corporativa, que beneficia o réu. Basta verificar estudo que a Fundação Getulio Vargas fez sobre o nível de condenações dessa justiça. O percentual de condenações aqui é muito maior do que na justiça comum.
.
Quando se promulgou a lei que transferia para o júri a competência dos crimes dolosos contra vida cometidos por militar contra civil foi em função do massacre do Carandiru. Pois muito bem. Isso foi julgado 22 anos depois. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu os comandantes. Depois houve uma modificação, mas absolveu. Muitos dos réus já tinham morrido. Alguns crimes estavam prescritos. No mesmo sentido, quando houve o genocídio em Eldorado dos Carajás, foram indiciados 55 militares. Só dois foram condenados, os comandantes, 25 anos depois.
.
.
ConJur — Na Justiça Militar teria sido diferente?
.
Ministra Maria Elizabeth — Se tivesse sido processado e julgado pela Justiça Militar estadual o tratamento seria outro, e a celeridade, também. O importante em transferir essa competência para nós, é, em primeiro lugar, a nossa expertise. Em segundo lugar, nós somos céleres. As Forças Armadas não podem esperar para receber uma resposta judicial de crimes que são perpetrados dentro dos quartéis ou por militares. É preciso que a resposta seja imediata, porque, no caso da Justiça Militar, mais do que qualquer outra, o caráter tem que ser pedagógico. A sentença tem que ensinar e mostrar aos militares que se houver delinquência por parte deles as sanções serão rigorosas.
.
.
ConJur — Mas o próprio comandante do Exército disse que a lei era necessária para dar proteção aos militares durante as operações de GLO. Chegou a dizer que era preciso uma “garantia para agir sem o risco de surgir uma nova Comissão da Verdade”.
.
Maria Elizabeth Rocha — Não entendi exatamente qual foi o contexto dessa colocação, mas digo com toda a franqueza: impunidade, ele não buscava. Essa justiça não deixa passar, muitas vezes até contra o meu voto, nenhum tipo de conduta que eles considerem criminosa. Às vezes eu acho que nem resvala na criminalidade, a conduta é muitas vezes infracional — a distinção entre o regulamento disciplinar das Forças e o Código Penal Militar é simplesmente a vontade do Ministério Público em denunciar ou não.
.
.
ConJur — Como assim?
.
Maria Elizabeth Rocha — Todas as ações penais da Justiça Militar são públicas incondicionadas, independentes da vontade da vítima. E é o Ministério Público, que é o guardião da sociedade, que vai determinar se aquela conduta é ou não é delituosa. É ele que vai oferecer a denúncia. É claro que o juiz pode ou não receber essa denúncia, mas na medida em que ele recebe, e se houver uma eventual condenação em primeira instância ou absolvição, o recurso vem para cá, e nós vamos julgar. E aqui os índices de condenação, e eu não estou defendendo as condenações, desmentem tudo o que falam a respeito do corporativismo da Justiça Militar. O grau de condenação, até para se dar o exemplo dentro da caserna, é muito alto, muito elevado. Quem diz que nós absolvemos, protegemos o réu, não conhece a história dessa justiça, não conhece os processos que tramitam aqui dentro e simplesmente critica pelo fato dela ter o nome de Justiça Militar.
.
.
ConJur — Outra declaração é do ministro da Justiça, Torquato Jardim, de que “não há guerra que não seja letal”.
.
Maria Elizabeth Rocha — As normas são claras. E o Estado hoje é um Estado de paz. O Código Penal Militar é dividido em duas partes: dos crimes militares em tempos de paz, e dos crimes militares em tempos de guerra. Quando se fala em guerra é em guerra declarada. Muitas vezes a linguagem leiga pode ser confundida e mal interpretada, mas sem dúvida alguma vivemos tempos de paz. Houve uma ruptura da normalidade constitucional? Sem dúvida. Houve uma intervenção federal, e quando há uma intervenção federal da União no estado, como foi decretada pelo presidente da República e aprovada pelo Congresso Nacional, o pacto federativo no caso, se rompeu. A intervenção é tão séria que o dispositivo constitucional diz: a União não intervirá, “salvo para…” Ou seja, a regra é a não intervenção. São momentos realmente difíceis, em que a normalidade constitucional não está vigendo na sua plena eficácia, mas sem dúvida nenhuma ainda vivemos em tempos de paz. Muitas vezes se costuma falar que no Rio de Janeiro se presencia uma guerra civil. Não é exatamente isso. É uma linguagem metafórica. Não é aquilo que efetivamente está acontecendo, não é guerra no sentido de uma guerra declarada, de uma conjuntura bélica, mas de uma alteração da paz social, da segurança interna. E eu realmente não sei como que vai se resolver se a intervenção não funcionar. O que é que vai nos restar?
.
.
ConJur — A intervenção é o último recurso?
.
Ministra Maria Elizabeth — É o último recurso. Se a intervenção não funcionar, o que resta ao país? O estado de sítio? Estado de defesa? É uma situação que deixaram ir longe demais. Deveria ter sido pensado antes. A política da segurança no Rio não existia, não havia investimento na área, não havia investimento na inteligência, que é tão importante hoje para limitar e determinar o caminhar da criminalidade. Enfim, não havia nada, não havia política pública alguma nesse sentido.
.
.
ConJur — Qual é o papel da Justiça Militar nesse momento de intervenção federal?
.
Ministra Maria Elizabeth — Justamente vigiar e averiguar os excessos, tanto de um lado quanto do outro. E isso é importante que se diga. Não só por parte dos militares, mas também por parte da sociedade civil: a Justiça Militar vai intervir judicialmente para punir e regrar essas condutas. É preciso que o Direito seja respeitado. Até numa guerra os tratados de direitos humanos têm de ser observados. Existe uma ética na guerra. Não se pode atirar no inimigo pelas costas, não se pode jogar bomba em hospitais, não se pode usar determinado tipo de arma. Se numa guerra convencional existem regras para lutar, quanto mais numa questão que envolve a segurança pública de um estado brasileiro que está à beira do caos, do abismo. Nesse ponto a intervenção da Justiça Militar da União vai ser importantíssima. Também das justiças estaduais e das auditorias de primeira instância, porque são elas que vão valorar a correta aplicação da norma penal militar nos casos concretos. Elas vão valorar com conhecimento e com a expertise necessária. Nós conhecemos a matéria e a doutrina que rege o assunto e fazemos isso com celeridade. Não diria que trabalhamos em tempo real, mas quase. Ao passo que as outras justiças, sobrecarregadas como estão, não têm condições, mesmo que queiram.
.
.
ConJur — As Forças Armadas já foram usadas no Rio de Janeiro em outras ocasiões e houve várias denúncias de violação de garantias fundamentais. Pela primeira vez os casos chegaram no STM.
.
Maria Elizabeth Rocha — Antes disso o Supremo vai se pronunciar acerca da matéria para dizer se nós teremos que formar um tribunal do júri. Na minha avaliação, teremos, porque não tem como conciliar essa lei com o dispositivo da Constituição que estabelece a necessidade de tribunal de júri para crimes contra a vida. Isso é um ponto. O que defendo é que nós podemos julgar os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis, contanto que seja por meio do tribunal do júri. E o júri não é instituído aqui. Então esse julgamento, no meu ponto de vista, padece de constitucionalidade até que o júri seja formado. Formando o júri não há porque a Justiça Militar não julgar. Acredito que o Supremo dará uma interpretação conforme a Constituição para dizer que só é constitucional a lei se houver a formação de tribunal do júri no interior da Justiça Militar da União e da Justiça Militar estadual.
.
.
.
.