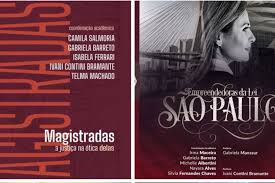Saiu no site: THINK OLGA:
Há alguns meses, enfrentei uma depressão ao lidar com traumas e questões profundas da minha história. Quem já passou por isso sabe o quanto custa para uma pessoa deprimida ser obrigada a se relacionar. Mas ao que parece, para as mulheres, nos trancarmos no quarto, nos escondermos sob o travesseiro, não querer ser gentil, social e cordata o tempo todo não é uma opção bem aceita. Se somos o esteio emocional da família, como podemos falhar?
Minha família, assim como muitas outras, tem sempre uma mulher responsável pelo bem estar de todo mundo. É nela que recaem as responsabilidades de cuidar de idosos e crianças, de reunir a família em eventos especiais, de socorrer um irmão ou uma sobrinha, de ouvir queixas e desabafos de quem quer que esteja precisando. Ela cuida de todos, menos de si mesma. E isso consome tempo, energia e espaço mental e afetivo.
Eu, durante minha fase depressiva, não tinha forças para estar disponível, não conseguia ouvir os problemas alheios. Simplesmente não conseguia. Mas como isso é possível? Como eu não estaria ali para os que eu amo? Uma culpa enorme, uma sensação de débito emocional tomou conta de mim. E essa culpa – assim como o pressuposto que sempre devo estar disponível – tem uma grande relação com o machismo que está profundamente enraizado em nossa sociedade.
Em 1969, o psicólogo John Bowlby criou um conceito inovador para a comunidade psicanalítica: a “teoria do apego“, que descreve a relação entre mãe e filho, a interdependência de ambos e as expectativas e consequências dessa relação. Apesar de trazer algumas ideias polêmicas para a época, o termo vingou – e aos poucos, estimulou a conversa sobre a ideia de disponibilidade emocional em todas as relações afetivas, não apenas na maternidade.
Mas afinal, o que é estar emocionalmente disponível para o outro? É aí que mora o problema: ao que tudo indica, para a parcela masculina do mundo, significa apenas estar presente (ou não) em um relacionamento. Para a mulher, a disponibilidade emocional é obrigatória em todos os campos de sua vida. Desde a infância, somos estimuladas a sempre acolher, cuidar e ouvir. Somos a parte da população que “sabe abrir o coração”, que “tem talento para falar de sentimentos”. Em um estudo profundo sobre disponibilidade emocional, publicado em 2005 por Rebecca J. Erickson, todas essas tarefas estão atreladas não ao sexo, mas ao conceito de gênero feminino que se estende séculos a fio. Não somos “melhores” em emoções: somos educadas para acreditar que sim. A pior parte nisso tudo? Essas construções culturais e sociais são exploradas por outros.
Na trilha do estudo de Bowlby, a pesquisadora Arlie Russel Hochschild publicou, em 1983, o livro The Managed Heart, que mostra como esses sentimentos “femininos” são comercializados e prometidos por empresas. Um exemplo de Hochschild são as companhias aéreas, que estampam o sorriso das aeromoças em todas as suas campanhas. A simpatia e a solicitude da comissária de bordo são tão garantidas quanto o lanchinho durante o vôo.
Mas estamos falando sobre emoções humanas, que são complexas e, geralmente, exigem muito de nós. Segundo pesquisas, trabalhos que lidam com muita dedicação emocional – Hochschild identificou mais de 40 tipos – são mais exaustivos a longo prazo, mas isso raramente é notado pelos empregadores. No estudo Gênero, Emoções e Produção Cultural: Uma Análise da Autoajuda Brasileira, a mestre em Antropologia Social Talita Castro menciona Hochschild para explicar porque isso recai principalmente sobre as mulheres: “quanto maior o status social da pessoa, mais suas emoções são levadas em conta; em contraposição, quanto mais subordinada, mais ela é institucionalmente chamada a atuar sobre seus estados emocionais”.
Vale dizer que a expectativa da mulher profissional como boa ouvinte e sempre disponível emocionalmente se repete em todas as camadas da sociedade: espera-se que nós sejamos professoras mais gentis, líderes mais maleáveis – caso contrário, somos chamadas de “endurecidas” e acusadas de perder nossa feminilidade para alcançar o topo. Na política, a expectativa é que candidatas sejam mais bem humoradas e afáveis(além, é claro, de inteligentes e capazes) do que os homens. A lista de tarefas invisíveis da mulher parece interminável.
Nos relacionamentos conjugais, essa exigência se repete: quem nunca passou a noite escutando o marido ou namorado reclamar do trabalho? Ou tentou contornar e conciliar brigas dele com a família? Administrou seus rompantes de raiva? Esta desigualdade também pode ocorrer em casais homoafetivos, é verdade, mas a disparidade de expectativas impostas a homens e mulheres nesse aspecto não pode ser ignorada. Segundo Hochschild, “[…] as esposas freqüentemente precisam de um grande empenho em termos de trabalho emocional para sustentar a ideologia e/ou o mito de que o relacionamento é, de fato, bom.” Ou seja, além de acolher, também nos cabe fazer a relação funcionar até os mínimos detalhes. Em um longo artigo do The Guardian sobre trabalho emocional e disponibilidade, a autora Rose Hackman menciona uma lista de afazeres exclusivos da mulher em um relacionamento heterossexual, que vai do planejamento do melhor momento para ter filhos até ser a referência de coisas perdidas pela casa.
Este desequilíbrio profundo também tem a ver como os homens são educados. São encorajados, desde cedo, a esconder seus sentimentos e muitas vezes represam angústia, raiva, dor e sofrimento para proteger sua “masculinidade”. Estudos já relacionaram esta incapacidade de lidar com emoções com violência, comportamentos obsessivos e compulsões, como por exemplo a objetificação feminina por meio da pornografia. Mas na vida familiar, a disponibilidade emocional do homem é mais do que um pressuposto para um relacionamento saudável: o estudo “Mais do que o provedor”, realizado na Universidade de Michigan, estabeleceu a relação entre a disponibilidade emocional paterna e o desenvolvimento de habilidades como a fala e a coordenação motora de bebês. Ou seja, essa tarefa é grande e importante demais para ser exclusiva da mãe, embora recaia ainda sobre nós.
A manipulação de emoções de forma desequilibrada – seja para se encaixar em um estereótipo ou perpetuá-lo – é prejudicial a todos, mas a uma parcela mais do que outra. Se queremos realmente entender o quanto essas cobranças fazem mal, é essencial fazer um recorte racial aqui: as mulheres negras são as maiores vítimas desse sistema.
Em nossa sociedade racista, onde a população negra é invisibilizada, explorada e solitária, é muito conveniente perpetuar o mito da “mulher negra forte”, como diz Meri Danquah: “Supõe-se que as mulheres negras sejam fortes – amparadoras, nutridoras, que curam outras pessoas […]. Supõe-se que a dureza emocional que é construída na estrutura de nossas vidas esteja ligada ao fato de eu ser ao mesmo tempo negra e mulher”.
No subtexto sinistro dessas expressões, está a convicção de que a mulher negra deve ter ainda mais disponibilidade emocional, uma vez que, oprimida de todas as formas possíveis, não deve fraquejar ou abalar-se, sem direito à tristeza ou ao recolhimento. Tamara Beauboeuf-Lafontant faz uma avaliação precisa dos malefícios da perpetuação desse estereótipo: “o conceito de força associado à mulher negra esconde aquilo que acredito que seja sua verdadeira função: defender e manter uma ordem social estratificada ao ocultar as experiências de sofrimento, os atos desesperados e a raiva da mulher negra”. Negar-se a ser a “mulher negra forte”, permitir-se sentir e fraquejar, é um ato de resistência.
No texto “Nós negros não morremos só de tiros: tenho depressão” de Stephanie Ribeiro para a Afronta, ela resiste. “Ser forte não é bom para mim enquanto mulher negra. Pois ser forte é negar minha humanidade. Essa cobrança da mulher negra que não sente e lida bem com tudo é resquício da ideia que somos mais objeto do que gente. Existem dores na minha alma que me fazem querer chorar e ficar só. E sobre isso, é bem mais complexo falar, mas preciso me permitir apenas ‘Sentir’”.
Doar-se – e ainda mais de forma obrigatória, diária, como forma de opressão e não de expressão afetiva – é exaustivo. Não é à toa que estamos esgotadas, como essa tirinha da quadrinista francesa Emma exemplifica muito bem. A exigência de trabalho emocional tão grande – seja no emprego, na vida familiar ou até mesmo nas amizades – nos sufoca, quando deveríamos ser dedicadas, de forma espontânea, apenas àqueles que queremos bem. A disponibilidade emocional deve ser tudo, menos tóxica.
A acadêmica portuguesa Sofia Pracana, da Universidade de Lisboa, tem uma definição bonita do termo: “estar emocionalmente disponível é a capacidade de me ligar a alguém de forma autêntica, intuitiva e dedicada. É abraçar, entendendo e aceitando a pessoa como ela é ou conforme está, e deixando-a ir e vir nos seus movimentos de vida”. A recíproca precisa ser verdadeira: a disponibilidade emocional só deve funcionar como uma via de mão dupla.
O feminismo assume, há décadas, a tarefa de quebrar estereótipos sobre a mulher. Há quem diga que a próxima grande revolução feminista terá como objetivo nos desvincular, de uma vez por todas, da obrigatoriedade de estar sempre disponível. Não entenda mal: somos fazedoras de laços e isso, para muitas, é prazeroso. Mas não podemos cair na armadilha de aceitar que isso é nossa obrigação – e apenas nossa. Todos perdem com isso.
Precisamos, urgentemente, ter um tempo de recolhimento. Precisamos ter o direito de, às vezes, simplesmente não estar ali.
Arte: Chloe Cushman para o The Guardian
Veja publicação original: Disponibilidade emocional não é obrigação da mulher