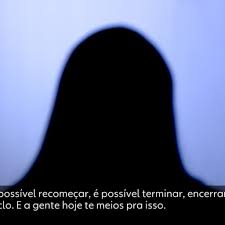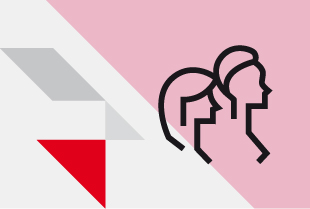Saiu no site: THINK OLGA:
Em um debate sobre representatividade negra e racismo na mídia, uma pessoa na plateia questionou às presentes: “Como fazer uma comunicação justa e inclusiva para mulheres negras?”
Embora eu estivesse mediando a conversa, sussurrei para minha colega que ela cuidasse do assunto, pois era delicado para mim. Como jornalista, descobri a resposta para esta pergunta já na faculdade e acreditei que poderia colocá-la em prática no mercado de trabalho. Mas logo me deparei com uma realidade de oportunidades negadas pelo racismo institucional, responsável por moldar e disseminar estereótipos de pessoas negras e não suas histórias. Precisei enfrentar muitas barreiras até me encontrar no jornalismo independente.
Logo, a pergunta me trouxe, imediatamente, lembranças e sentimentos, entre eles de raiva e impotência. Minha primeira reação foi me proteger. Porém, nem sempre um assunto que consideramos um gatilho faz somente enfraquecer. Naquele momento, me veio exatamente o contrário e, pela primeira vez em muito tempo, tive coragem de enfrentar colegas de profissão e responder: “Chame mulheres negras para falar. Abra espaço para elas escreverem, contarem suas histórias, falarem sobre si mesmas”.
Parece uma solução tão simples, mas na prática, é dizer, na cara de editoras e jornalistas, que eles são racistas em suas produções de conteúdo, que, muitas vezes, pautam questões raciais em função de uma cobrança da militâncias mas não o fazem de maneira correta. Isso acontece pois não ouvem tais cobranças, já que continuam sem dar oportunidades para que pessoas negras façam parte das redações.
Como a personagem Samantha White, da série Cara Gente Branca (Dear White People), disponível na Netflix, sempre diz e repete para seus colegas brancos: o medo, a revolta e a resistência negra ainda existem por causa dos efeitos da escravidão.
Como já apontei, esta série é para e sobre pessoas negras e as diversas questões e vivências em torno delas. Porém, Cara Gente Branca continua fazendo jus ao título, quando coloca uma mulher negra, Sam White, para falar sobre racismo estrutural diretamente para pessoas brancas. Para isso, ela usa um veículo de comunicação independente em seu campus universitário e enfrenta as confrontações com relação ao suposto “racismo reverso”. Basicamente, ela faz o que precisei reunir coragem para fazer somente uma vez, naquela mesa de debate, só que em alto e bom som em um programa de rádio periódico.
No fim das contas, a série acaba sendo sobre a importância de se reconhecer privilégios, até mesmo para pessoas brancas que se dizem “acordadas” para a existência do racismo. Uma mensagem importante é a de que amar uma pessoa negra ou se juntar à militância não livra alguém de ser racista.
Claro que ninguém quer ter este título, receber esta acusação. Não só no contexto americano que a série traz. No Brasil, 90% dos brasileiros admitem que existe preconceito de cor, mas 96% dos entrevistados se identificaram como não racistas, segundo uma pesquisa histórica do Datafolha, de 1995.
No dia da Abolição da Escravatura no país, não é estranho perceber que esta resistência a admitir a profundidade do racismo no Brasil ainda existe? Mesmo que a conversa sobre racismo esteja sendo expandida, ainda encontramos estereótipos nocivos, a ponto de ser necessária a criação de uma parte do nosso Minimanual de Jornalismo Humanizado dedicada a apontar práticas ruins e fornecer maneiras honestas de como contar as histórias de pessoas negras e ainda a criação do projeto Entreviste um Negro, pela jornalista Helaine Martins.

Se ser racista é tão pesado e negativo, o que estamos fazendo para mudar isso? Melhor: o que as pessoas brancas estão fazendo para mudar isso?
Ainda paira sobre a sociedade, principalmente no Brasil, uma ideia de que preconceito de raça só acontece quando é vociferando, gritado ou caracterizado por agressões físicas, como em tempos de escravidão, apagando o fato de que somente a abolição não foi suficiente para igualar as raças.
Logo, é muito fácil se agarrar nisso para relativizar agressões que parecem pequenas, mas que são dolorosas. Em outras palavras, ainda vivemos em um mundo em que as pessoas brancas julgam o que é racismo e se mascaram para não parecerem racistas.
A Cara Gente Branca a qual a série se refere é um grupo que precisa parar de ver um apontamento de racismo como algo pessoal e aprender a ouvir quem aponta. E agora eu também me refiro a esta Cara Gente Branca, mais especificamente meus colegas de profissão, pois minha coragem não pode ficar naquela situação isolada da mesa de debates e espero ser ouvida.
A mídia e a comunicação são grandes responsáveis por propagar ideais que geram violência e segregação. Logo, está em nossas mãos, como comunicólogos, não deixar que os esforços de pessoas negras para superar gatilhos e falar sobre suas angústias sejam em vão. Retribuam com respeito e espaço de fala.
Ficar na defensiva ou buscar uma redenção por ter sido chamado de racista não resolve um problema tão grande. Mas assumir o erro e aprender com ele, sim.
Karoline Gomes é produtora de conteúdo e assistente de comunidades da ONG Think Olga.
Arte: Akilah Richards
Veja publicação original: Cara gente branca, não é pessoal, é estrutural