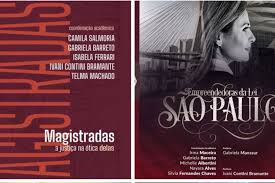Saiu no site EL PAÍS:
Veja publicação original: Sou intersexual, não hermafrodita
Por BARBARA AYUSO
As pessoas que não se encaixam na atribuição tradicional do sexo pedem maior visibilidade, sem clichês ou desinformação
té os 18 anos, Claudia não conseguia dar nome ao que lhe acontecia. Não tinha menstruação e mantinha alguma lembrança borrada de uma cirurgia quando pequena, mas nada além disso. Até que por uma mudança na clínica, o médico pediu seu prontuário à enfermeira: “Me traga a ficha da Síndrome de Morris”, ouviu. Memorizou o nome e depois consultou-o na enciclopédia médica de sua colega de apartamento. Ali encontrou o pedaço de sua vida que faltava. “Senti alívio, porque finalmente soube o que tinha, mas o que realmente pensei foi: ninguém vai saber sobre isso”. Claudia descobriu que tinha nascido com a síndrome da insensibilidade parcial aos andrógenos, um dos tipos de intersexualidade mais comuns. Tinha as características físicas de uma mulher, mas os códigos genéticos de homem.
“Somos intersexuais, não hermafroditas. Se dá como certo que o homem é XY e a mulher XX, mas não em todos os casos”, destaca. Ela tem consciência de que a percepção social continua associando o termo grego a todas as condições de intersexualidade e persiste a ideia de que são pessoas com genitais masculinos e femininos ao mesmo tempo. Não é assim. O mito, o tabu e a lenda distorcem uma realidade muito mais complexa. “Há mais de 40 causas diferentes para sua origem e a cada ano alguma nova é descrita. Há muitas possibilidades, a intersexualidade acontece quando há uma discrepância entre o sexo genético, o da gônada e o dos genitais”, explica a médica Laura Audí, pesquisadora do grupo de Endocrinologia Pediátrica do hospital Vall d’Hebron, em Barcelona.
A OMS estima em 1% a porcentagem de pessoas intersexuais no mundo todo, mas os dados sobre a prevalência na Espanha são uma incógnita: “Podemos estimar criando paralelos com as estatísticas americanas, apesar de não ser de todo exato. Estaríamos falando que por ano nascem 250 pessoas intersexuais na Espanha”, explica o jurista Daniel J. Garcia, especialista no tema e autor do livro Sobre el derecho de los hermafroditas (sem tradução ao português).
Os bebês como Claudia, com algum tipo de discrepância genital, trazem consigo uma pergunta espinhosa: menino ou menina? A lei espanhola obriga a registrar um recém-nascido no Registro Civil sob um dos sexos em um prazo de 72 horas. Um jogo de dados contra o relógio, no qual os pais ouvem a equipe médica interdisciplinar (endocrinologistas, pediatras, cirurgiões e geneticistas) que estuda as características preponderantes no bebê para atribuir-lhe o gênero. A decisão fica na mão dos pais, mas as associações ativistas denunciam que durante muitos anos a informação que lhes foi proporcionada era escassa e ambígua, e ainda persiste um grande déficit. “Era tal a confusão que eu mesma tive de explicar para minha mãe quando soube aos 18 anos o que exatamente tinha me acontecido”, lembra Claudia. Para seus pais, há 36 anos, chegou-se a recomendar que não pesquisassem muito sobre o assunto e que fossem discretos.
“Os traumas das operações quando você é tão pequeno ficam no corpo, não passam por sua mente”
A equipe médica estabelece ou não a necessidade de realizar cirurgias no bebê para redesignar seu sexo, seja com a extirpação das gônadas, a reconstrução genital ou até um tratamento hormonal posterior. Algo que suscita debate entre profissionais, ativistas e afetados. É preferível designar um sexo cirurgicamente para que o bebê cresça com um determinado, ou deve-se postergar a decisão para que seja a própria criança quem desenvolva um gênero ou outro?
Mutilação, cirurgia e falta de consenso
Quando começou a reconstruir sua história, Claudia descobriu que aos dois anos lhe foram extirpadas as gônadas masculinas que tinha alojadas no abdome. Não se lembra dessa intervenção, mas conserva alguma memória da que sofreu dois anos depois, uma cirurgia de “normalização” para padronizar sua vagina.
“Por que com 9% se justifica a mutilação [em pessoas intersexuais] e com outras de risco mais alto isso não acontece?”
Conforme foi compondo o quebra-cabeças de seu passado, foi processando também as cicatrizes invisíveis. “Os traumas das operações quando você é tão pequeno ficam em seu corpo, não passam por sua mente. Não são processados cognitivamente”, afirma. A terapia a ajudou a encontrar essas lembranças que estavam alojadas em algum lugar de sua mente, escondidas. “Descobri, por exemplo, um monte de desenhos de mãos atadas. Na época não soube do que se tratava, mas depois associei a que no pós-operatório da segunda intervenção me amarraram para que eu não tocasse os pontos”, explica.
Quem adota a postura mais contrária à cirurgia pediátrica sustenta que o protocolo atual estimula que os pais tenham acesso à operação, abordando exclusivamente os riscos de não intervir ou de adiar para a puberdade. “O manual para médicos usado nos EUA, da John Hopkins University, recomenda utilizar a palavra câncer para convencer os pais da necessidade de intervenção. Usa-se uma terminologia médica, como má-formação, câncer ou tumor, que dá medo. Quando dizem que seu filho terá câncer no futuro, normalmente vão assinar esse consentimento”, argumenta Daniel.
“O principal problema que enfrentam é a solidão, o desconhecimento e a sensação de isolamento depois do diagnóstico”
Um alarme superdimensionado porque “as estatísticas do câncer, na realidade, são mínimas”, afirma, citando uma campanha realizada na Austrália na qual se comparava a intersexualidade com o câncer de mama. “Cerca de 12,3% das mulheres correm o risco de sofrer de câncer de mama e mesmo assim não se extirpam todas as mulheres ao nascer. Porém, o risco de desenvolver um tumor, que não seja câncer, nas pessoas intersexuais é de 9%. Em muitas síndromes é até 0, então por que com 9% se justifica a mutilação e quando há outros riscos mais altos nem nos passa pela cabeça?”, pergunta-se.
A doutora Audí esmiuça esses dados e defende que a incidência do câncer não se dá em todos os casos, mas em alguns: “Se as gônadas são muito disgenéticas, ou seja, muito mal desenvolvidas, têm um alto potencial de malignização. Nesses casos, realmente se sabe que o potencial de desenvolvimento de tumores é alto, por isso os profissionais continuam aconselhando sua extirpação”, afirma. Considera que no debate das cirurgias não se deve adotar uma postura simplista e defende uma solução caso a caso. Apesar de reconhecer que no passado foram feitas intervenções “criticáveis e precoces”, atualmente os protocolos são mais cuidadosos e respeitosos com o bebê e os pais, que recebem melhores informações. “Para evitar uma imposição, não se pode estabelecer outra imposição como a proibição absoluta. É realmente voltar a épocas impositivas e não é lógico”, ressalta.

De sua parte, as associações espanholas não têm uma postura consensual. “Não há uma decisão correta sobre o que fazer, só existe o que é correto para você e para sua filha”, garante a Associação Espanhola de Hiperplasia Suprarrenal Congênita (HSC), outra das condições habituais da intersexualidade.
Na Grapsia, que reúne as pessoas afetadas pela Síndrome da Insensibilidade aos Andrógenos, também evita-se a opção única. Seus profissionais acompanham, assessoram e informam os afetados, mas sem criminalizar as escolhas dos pais. “Defendemos que se informe corretamente sobre as alternativas, e que se faça o melhor para o benefício psicológico do paciente e de sua família”, afirma Yolanda Melero, psicóloga e terapeuta da associação. Suas demandas passam por incluir nos grupos multidisciplinares pessoas intersexuais com as quais os pais possam se consultar, para ampliar a informação disponível e para que o sistema de saúde incorpore centros de referência aos quais encaminhar as famílias com filhos afetados para lhes garantir uma atenção integral. “O principal problema enfrentado é a solidão, o desconhecimento e a sensação de isolamento depois do diagnóstico”, destaca Melero.
Contra o gênero binário
Quando foram comunicados de que seu bebê tinha uma desordem do desenvolvimento sexual e lhes recomendaram operá-lo, esses pais decidiram procurar informação por conta própria, sem ouvir os médicos. Encontraram testemunhos de intersexuais operados na infância que, quando se desenvolveram, se identificaram com o gênero contrário ao que lhes tinha sido atribuído, e também com outros que não tinham passado pelo cirurgião e tinham uma vida normal. Decidiram não operar o bebê, que hoje tem dois anos, porque consideram as cirurgias pediátricas uma “mutilação”, como também estabelece a Organização Internacional de Intersexuais (OII). O casal, que quer preservar sua intimidade e anonimato, decidiu que seria seu filho quem decidiria no futuro o que fazer e consequentemente o educariam sem nenhum papel de gênero. Não há, até o momento, um “ele ou ela”. “As criaturas não precisam ser rotuladas, a necessidade é dos pais diante da sociedade que vive com uma venda nos olhos”, afirmam.
Defendem uma mudança mais radical na legislação, que vá além da aprovada pela Alemanha, que estabeleceu um “terceiro gênero ou gênero X”e que obriga a registrar o bebê em nenhuma das duas categorias. De fato, consideram que isso lhes estigmatiza ainda mais, porque os rotula e obriga que a intersexualidade seja descrita como uma patologia. Apostam em subverter completamente o código binário de homem e mulher. “É preciso eliminar a categoria do sexo do termo jurídico, do DNI [equivalente ao nosso RG] e do Código Civil”, apoia Daniel J. Garcia. Em sua opinião, isso derrubaria o argumento de “urgência jurídica” que os médicos alegam para operar as crianças com genitais ambíguos, porque não existiria a necessidade de determinar em 72 horas se são de sexo feminino ou masculino. “Do ponto de vista jurídico, pode-se pensar que haveria problemas, mas isso não afetaria nada além da lei de sucessão à Coroa, que estabelece diferença entre homem e mulher. Para as certidões de nascimento se informaria simplesmente quem deu à luz, e nos casos de violência de gênero, como aconteceu com os transexuais, também não haveria problema”, afirma. Deixa o caminho aberto para que o registro seja voluntário.
Desafios do futuro
Controvérsias a parte, a maioria dos setores reconhece que, apesar de lentos, os avanços acontecem. A Comunidade de Madri incorporou recentemente em sua Normativa de Identidade e Expressão de Gênero e Igualdade Social duas das demandas de muitas organizações: a despatologização e a proibição da cirurgia externa por motivos que não estejam relacionados a risco para a saúde. “É a primeira lei dentro das comunidades espanholas, terceira no mundo depois de Malta e Chile que proíbe isso, apesar de na verdade esta lei não estabelecer qualquer tipo de sanção e se enquadrar no soft low”, especifica García. Também os protege de exames e exposições abusivas, que muitos intersexuais denunciam ter sofrido.
Além disso, nos próximos anos serão implantados protocolos e iniciativas destinados a paliar as deficiências do sistema de saúde no atendimento aos intersexuais. Audí, que está à frente da matéria há cerca de 40 anos, destaca o projeto DSD-Life e outro de âmbito europeu chamado COST BM1303. “As pessoas adultas afetadas por essas condições são reunidas e se analisa o tratamento que receberam de todos os pontos de vista, e as queixas que têm. Sabendo como estão, o que foi feito a eles no início e depois poderemos corrigir muita coisa”, explica.
Graças à terapia, à Grapsia e a seu empenho pessoal, Claudia vive hoje sua condição com naturalidade. Não sofreu a rejeição que imaginava quando confessou a seus conhecidos, apesar de dizer que o estigma e certas lendas persistem. “Pensei que me veriam como um monstro”, lembra. Agora, suas amigas se esquecem com frequência e às vezes lhe pedem um absorvente. Perdeu a sensibilidade com a operação, mas não é a perda que mais lamenta. “Se pudesse voltar atrás, gostaria de ter tido a possibilidade de escolher operar-me ou não. A oportunidade de terem explicado tudo claramente a meus pais”. Só existe uma direção: para frente. E espera que no futuro isso não torne a ocorrer.
…