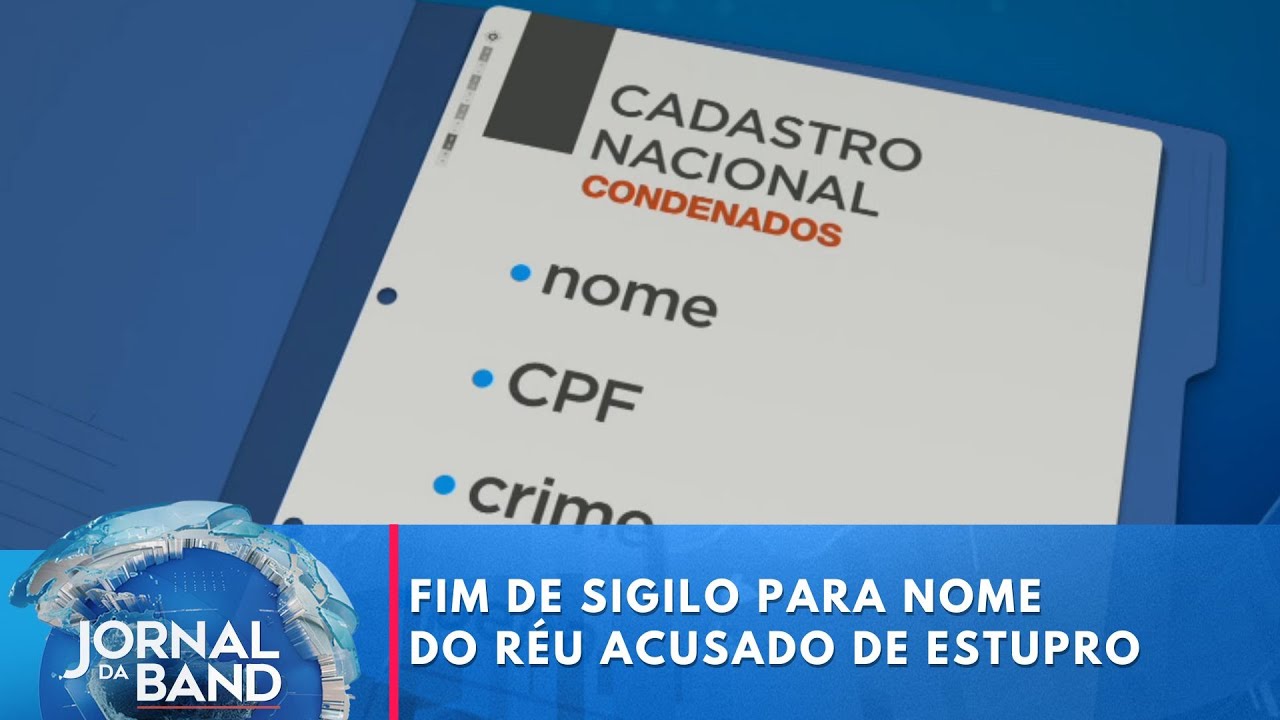Saiu no site REVISTA TRIP
POR ISABELLA LANAVE
Era década de 50 e Ivan, o terrível, de Sergei Eisenstein, estreava no Brasil. No Metro Passeio (cinema que funcionou de 1936 a 1964), no centro do Rio de Janeiro, desde a calçada um tapete vermelho recebia quem chegava sob a luz de refletores. “Eu tremia”, lembra Adélia Sampaio, 74 anos, sobre o dia em que descobriu o seu amor pelo cinema. Por convite de sua irmã, Eliana, a menina, na época com 13 anos, entrava numa sala de cinema pela primeira vez. A tela acendeu e as luzes se apagaram. “Eu fiquei apavorada, o que é isso?” Letreiros, personagens enormes – as produções soviéticas da época eram muito avançadas em tecnologia. “Eu quero fazer isso!. Foi o único sentimento que eu consegui expressar na hora”, lembra a cineasta mineira radicada no Rio de Janeiro. No início de 2017, Adélia está reunida com outras diretoras negras na sede da Ancine, também no centro do Rio, no Seminário Diversidades, cuja programação inclui a exibição de Amor maldito. Seu primeiro e único longa-metragem, de 1984, é também o primeiro dirigido por uma mulher negra no Brasil.
Baseado em fatos reais ocorridos em Jacarepaguá, o roteiro de José Loureiro trata com um tom policialesco do amor entre duas mulheres – a jovem executiva Fernanda Maia (Monique Lafond) e a ex-miss, filha de um pastor evangélico, Suely Oliveira (Wilma Dias) – e do suicídio de uma delas. A narrativa varia entre o julgamento de Fernanda, acusada pela morte de Suely, e as suas lembranças. “Eu estava trabalhando numa coisa em que eu acredito. Sou verticalmente contra qualquer preconceito, qualquer homofobia. Por isso que eu dedico aos meus filhos. Não é demagogia não, é real”, explica a diretora.
A Embrafilme, estatal brasileira produtora e distribuidora até 1990, classificou o tema como absurdo e não ofereceu financiamento nem mesmo quando Adélia recebeu o convite para exibir Amor maldito um festival no exterior. Assim, o filme foi todo rodado em um sistema de cooperativa entre os técnicos e atores, em que todos receberam apenas uma ajuda de custo.
Naquele tempo, as produções eram lançadas em São Paulo e Rio. Na capital paulista, porém, nenhum cinema aceitou o longa na programação. Ela foi então atrás do Magalhães, um exibidor que na época tinha oito salas de cinema em São Paulo. Adélia mostrou seu trabalho e, de volta, ouviu: “Não fala para minha mulher não, viu? Eu gostei muito do longa, mas nós vamos ter que travestir esse filme”, sentenciou Magalhães. O cinema nacional na década de 80 era dominado pela pornochanchada e, para estrear, Adélia precisaria topar a ideia de usar um cartaz com esse apelo pornográfico. “Se não tem outro jeito de entrar”, foi como a equipe reagiu à proposta.
Amor maldito conseguiu sua estreia e chamou a atenção de Leon Cakoff, à época um crítico da Folha de S. Paulo e já criador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. “Ninguém é obrigado a adivinhar o que se passa por trás de um produto obrigado a se vender de acordo com as regras sensacionalistas do momento, Amor maldito é um raro oásis que não pode ser ignorado”, escreveu em seu artigo no jornal.
O voo da borboleta
Filha de empregada doméstica, Adélia tinha quatro anos quando se mudou para o Rio de Janeiro com a mãe e a irmã – o pai era desconhecido. A antiga patroa de sua mãe havia morrido e uma das filhas decidiu levá-la juntamente com a família para a capital fluminense. Logo após chegarem à cidade, porém, ela e sua irmã foram levadas, sem o consentimento de sua mãe, para um internato, onde ficaram seis meses sem se ver. Foi esse o tempo que a mãe de Adélia levou para ir buscá-las, mas a nova patroa era insistente e encontrou outro orfanato, dessa vez em Minas Gerais. “Não se preocupe que pelo menos agora ela tá em Minas, vocês não são de Minas?”, foi como a patroa explicou para a mãe. Foram sete anos até a mãe de Adélia conseguir tirar férias, pagar as despesas do orfanato para a patroa e ir visitar a filha, que sequer a reconheceu imediatamente. “Durante o tempo que eu estive no orfanato eu guardei o meu sapato. Porque eu tinha a impressão de que se eu o perdesse eu nunca mais ia achar minha mãe”, conta Adélia.
Assim, aos 13 anos, ela estava de volta ao Rio e pronta para trabalhar em muitos lugares diferentes, lojas, magazines, comércios em geral. Mas foi em 1968, como telefonista da DiFilme, que se aproximou da sua paixão, o cinema. “Comecei a ver todas as produções nacionais e ter contato com o pessoal do Cinema Novo”, conta. Rapidamente ela estaria cuidando também do cine clube da empresa.
Nessa época, já com dois filhos, seu marido foi preso pela ditadura e torturado. “Como cuidar de dois meninos, exercitar o cinema e ainda trabalhar para ganhar dinheiro?” Mas desistir jamais foi um plano. “O cinema é elitista. Chega uma preta, filha de empregada doméstica e quer fazer filmes? Claro que foi difícil”, desabafa. Foi continuísta, maquiadora, câmera, montadora e produtora, passou por quase todas as funções dentro de um set de cinema, em mais de 70 produções, até chegar à direção. “Fui eleita a rainha da pesada”, conta Adélia, que deixava os diretores irritados quando pedia para entregar os roteiros também para o eletricista, maquinista e assistente de câmera nos sets.
Desafio gigante
Em 1979, abre uma pequena produtora para fazer o seu primeiro curta, Denúncia vazia, baseado na história verídica de um casal de velhinhos que não conseguem pagar o aluguel e acabam se matando. Adélia sempre prezou trabalhar com negros em suas equipes e por isso passou por muitas situações de preconceito. Uma delas foi no primeiro dia de gravação de outro de seus curtas, Agora um Deus dança em mim. Ela estava com o fotógrafo, também negro, quando um funcionário do estúdio em que estavam entra na sala e diz: “Não vem diretor nem fotógrafo para esse filme?”. Irritada, respondeu: “Eu até entendo que você não admita a possibilidade de dois pretos no comando, mas aí tem um problema, porque eu vou dirigir”. O homem ficou o dia inteiro pedindo desculpas à equipe.
Em novembro de 2016, na semana da consciência negra, em novembro, Adélia foi barrada no aeroporto de Porto Alegre. A cineasta possui próteses metálicas na coluna e em um de seus joelhos, mas nunca havia sido barrada. Encaminhada a uma sala fechada e uma funcionária pediu que tirasse suas roupas e ficasse de joelhos. A lacuna da cor e da profissão estavam vazias no papel que ela deveria assinar. O caso foi levado para a Câmara dos Deputados em Brasília, pela deputada Benedita da Silva.
A representatividade das mulheres negras no cinema reflete esse preconceito até hoje. Uma pesquisa recente realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), com filmes de grande público (mais de 500 mil espectadores) no Brasil, entre os anos de 1970 e 2016, indica que, na direção, apenas 2% eram mulheres. Isso apenas mostra o tamanho da batalha de Adélia, cujo último trabalho é um documentário de 2004 chamado AI5, o dia que não existiu, que codirigiu com Paulo Markun.
Com toda essa história, Adélia passou apenas recentemente a ser lembrada e homenageada em festivais de cinema e prêmios pelo Brasil, além dos constantes convites para exibir seu trabalho e participar de debates sobre a presença de mulheres negras no cinema. Aos poucos mais pessoas descobrem Adélia Sampaio. E ela tem planos para o futuro, um deles é fazer um curta-metragem com o nome A Arca, baseado nas parábolas da Bíblia, mas relacionado ao cinema da retomada após a saída de Fernando Collor da presidência. O curta pretende abordar o trabalho de mulheres nesse período. Adélia busca o roteiro de A Arca para me mostrar, e já nas primeiras linhas vem o teor urgente de suas palavras: “A Terra é um grande útero pedindo para ser fertilizado pelo olhar da mulher”.
Veja publicação original: A SAGA DE UMA MULHER NEGRA COM O CINEMA